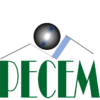Teses e Dissertações
Autenticidade em Atividades de Modelagem Matemática: da Aprendizagem para o Ensino em um Curso de Formação de Professores
Letícia Barcaro Celeste Omodei, Profª. Drª. Lourdes Maria Werle de Almeida
Data da defesa: 22/06/2021
A preocupação com a autenticidade em aulas de matemática teve seu despontar com o uso de problemas com contextos artificiais para aplicar a matemática nas aulas de matemática. Desse modo, a modelagem matemática é vista como um meio para inserir essa autenticidade na sala de aula. Mas como se caracteriza essa autenticidade em atividades de modelagem matemática? Construímos nossa fundamentação teórica sobre autenticidde em atividades de modelagem matemática, modelagem matemática na educação matemática e formação do professor para desenvolver atividades de modelagem na sala de aula. Considerando que as atividades desenvolvidas se caracterizam como uma atividade de modelagem matemática, definimos atributos para conferir a autenticidade a essas atividades. Levando em consideração o arcabouço teórico em que se fundamenta a pesquisa e o objetivo de investigar como se caracteriza a autenticidade em atividades de modelagem matemática desenvolvidas em um curso de formação inicial de professores, foram desenvolvidas atividades de modelagem matemática mediante a caraterização de dois contextos: o Contexto de Aprendizagem e o Contexto de Ensino. De acordo com as análises empreendidas nessa pesquisa, a autenticidade se mostra presente em todo o desenvolvimento da atividade de modelagem, no contexto em que se dá a atividade, mas também no papel do professor, na autonomia dos estudantes, nas decisões que são tomadas, no porquê dessas decisões e o que elas influenciam. As análises das atividades desenvolvidas no Contexto de Aprendizagem mostram que a autenticidade está ligada à autonomia dos estudantes para desenvolverem a atividade, pois o maior nível de autenticidade inclui atividades de 3º momento de familiarização dos estudantes com atividades de modelagem matemática, atividades em que os estudantes de fato percorrem todas as fases de desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática. Assim, uma atividade com maior nível de autenticidade exige que os próprios modeladores se envolvam na coleta de dados, conheçam mais profundamente a situação-problema estudada, analisem para buscar e selecionar informações necessárias, quais simplificações são possíveis de se fazer sem que comprometa a autenticidade da situação do mundo real, que hipóteses considerar, para então resolver o problema, construir o modelo matemático e interpretar os resultados, com vistas também às consequências desse modelo e o que os resultados podem trazer para o mundo dentro e fora da sala de aula.
A dinâmica das controvérsias na transformação de um projeto pedagógico de curso: um estudo à luz da teoria ator rede.
Jayme Marrone Júnior, Prof. Dr. Sergio de Mello Arruda
Data da defesa: 07/06/2021
A pesquisa surge da observação e participação do autor no processo de implantação de uma proposta metodológica que sugeria a ruptura com o ensino tradicional através de iniciativas, como a desfragmentação disciplinar e regime não seriado, em um campus de uma instituição pública federal, no ensino médio profissionalizante. Durante esse processo ocorreram conflitos entre professores, estudantes e comunidade sobre a metodologia descrita no Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Em quatro anos o PPC 2014 se transforma no PPC 2018 este último com características mais próximas do ensino tradicional. Como as discussões aconteciam em torno do documento (PPC), e ainda observando que o mesmo interagia com o coletivo escolar, provocando ações que resultavam em controvérsias, optamos por utilizar a Teoria Ator-Rede (ANT) de Bruno Latour como referencial teórico e metodológico. Para esse autor a ação não é uma prerrogativa apenas de humanos, mas de um conjunto de híbridos humanos e não humanos (actantes). Através da descrição das controvérsias e do movimento de transformação da rede do PPC, o trabalho tem como objetivo geral investigar a mudança na proposta pedagógica deste campus do IFPR entre 2014 e 2018 sob a lente da Teoria Ator-Rede. Como objetivo específico pretendemos atribuir significado à hipótese de que um ator-rede só tem existência em uma rede que o sustenta. Isso significa que a mudança do PPC 2014 para o PPC 2018 só aconteceu porque a proposta inicial (PPC 2014) não encontrou uma rede onde ela poderia se desenvolver. Com o auxílio da Análise de Conteúdo e da Cartografia de Controvérsias, constituímos e analisamos os dados a partir de documentos e entrevistas semiestruturadas. A partir daí produzimos um relato documentado que descreve o caminho do PPC 2014 desde sua criação até seu abandono e consequente surgimento do PPC 2018. O trabalho com a ANT permitiu observar que os elementos emergentes da análise da formação das redes são resultado da necessidade funcional de subsistência da própria rede, ou seja, o ator e a rede são uma única entidade. Cada formação de rede exige um PPC específico e sua consistência global não depende apenas da soma de suas partes, ou melhor dizendo, da constituição de seus actantes, mas das relações/ações entre eles. Ao seguir a dinâmica da Controvérsia da Metodologia, eleita como a principal controvérsia, constatamos que a proposta inicial representada pelo PPC 2014 existiu apenas em sua idealização como projeto. Durante toda tentativa de execução da proposta, a mesma exigiu adaptações que provocaram movimento de seus actantes, formando novos arranjos mas sem encontrar, em nenhum momento, uma rede apropriada à sua sustentação.
A Matemática que se sente na pele: um estudo do pensamento matemático de alunos surdocegos
Marcelo Silva de Jesus, Profª Drª. Angela Marta Pereira das Dores Savioli
Data da defesa: 27/05/2021
A presente pesquisa, de abordagem qualitativa descritiva, com características de um
estudo de casos múltiplos, tem por objetivo investigar e discutir características do
Pensamento Matemático de dois alunos surdocegos de uma escola do município de
Londrina-PR. Para tanto, assumiu-se como perspectiva epistemológica e
metodológica o Modelo dos Campos Semânticos (MCS), proposto por Rômulo
Campos Lins. Como suporte teórico, adotou-se a relação entre Pensamento e
Linguagem e o processo de desenvolvimento de crianças com deficiência, propostos
por Vygostsky. Para atingir o objetivo proposto, construiu-se uma caracterização para
o modo de produção de significados para a Matemática esperado de dois alunos no
contexto educacional paranaense, a partir da produção de significados do autor deste
trabalho para os resíduos de enunciações contidos nas Diretrizes Curriculares da
Educação do Paraná para a disciplina de Matemática. Tendo essa caracterização
como referência e os referenciais teóricos mencionados, realizou-se uma leitura dos
resíduos de enunciações dos dois, produzidos durante entrevistas semiestruturadas
que tinham por objetivo caracterizar os contextos escolares em que estiveram e/ou
estão inseridos e uma caracterização para os modos de produção de significados para
a Matemática, ou ainda, para o Pensamento Matemático de cada um deles. O estudo
evidenciou que o modo mais presente e valorizado em toda aprendizagem escolar dos
alunos, de noções concretas às abstratas, após o surgimento da surdocegueira,
esteve indissociável da manipulação, presente ou passada, de objetos físicos. Apenas
um dos alunos demonstrou possuir o Pensamento Matemático esperado no contexto
em que estão inseridos, e que ambos demonstram, em seus modos de lidar com a
Matemática, coisificar noções matemáticas e fazer referência a objetos “concretos”,
“cotidianos”.
Educação Química no Antropoceno
Bruna Adriane Fary, Profª Drª. Angela Marta Pereira das Dores Savioli
Data da defesa: 20/05/2021
Esta pesquisa emergiu do desejo de reivindicar a Química nos saberes populares e
nos espaços informais de circulação e mobilização de conhecimento. A partir da
questão ambiental do Antropoceno, surge a inquietação de como os saberes da
Química atuam nas problemáticas ambientais e quais outros saberes, práticas,
técnicas e políticas são possíveis para pensar em modos de mobilizar a Educação
Química para tal contexto. Nesse sentido, tem-se como objetivo desta tese buscar e
compreender saberes, práticas, técnicas e políticas que servem de inspiração para
pensar em outros modos de mobilizar a Educação Química, no que toca o advento do
Antropoceno. Na busca por essas estratégias, utilizou-se a Heteroautobiografia, com
base na Pesquisa Narrativa, enquanto metodologia para entrevistar duas alquimistasbruxas-
cientistas, que trabalham com agroecologia e cosmetologia natural. A
pesquisa teve como base as teorizações de Isabelle Stengers. Como resultados,
encontram-se nas narrativas de vidas dessas mulheres ações para reativar, resgatar,
reapropriar, regenerar, e toda polissemia do “to reclaim” de Stengers (2017a); a
retomada das práticas da diversidade do saber-fazer química, para tratar da
interferência no Antropoceno. Com as histórias de vidas, buscou-se e compreendeuse
como elas constituíram seus saberes, e discutiu-se os modos como elas existem e
resistem no Antropoceno. A conclusão desta pesquisa é que essas mulheres operam
em torno de uma química menor. A partir disso, propomos e discutimos, enquanto
estratégia, para além dos movimentos de desterritorialização, produzir um terreno
para mobilizar os saberes químicos de forma a agenciá-los no coletivo e a criar
ramificações políticas – modos de ser e estar em sociedade – configura o que
denominou-se de “Educação Química Menor” (EQM), da qual as mulheres
alquimistas-bruxas-cientistas operam com suas práticas, técnicas e políticas. As
participantes desta pesquisa mostraram as possibilidades de constituição de uma
ecologia de saberes químicos que desterritorializam a Química ao serviço dos
interesses industriais, econômicos e políticos. A política da Química de serviço nos
direcionou a problemas como poluições e consequências dos usos de agrotóxicos e
plásticos, que contribuem na caracterização do Antropoceno e na identidade e
território da Química na contemporaneidade.
Abordagem freiriana na espiral construtivista: uma escola para além dos seus muros
Egláia de Carvalho Cheron, Profª. Drª. Rosana Figueiredo Salvi
Data da defesa: 08/04/2021
Este trabalho mostra os resultados de uma pesquisa que investigou potencialidades e delimitações de uma abordagem pautada na pedagogia da autonomia freireana em uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências, em uma escola pública da região norte do Paraná. A proposta buscou promover a participação ativa dos participantes no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, partiram dos alunos os Temas Geradores que foram utilizados conciliando o currículo determinado para a série de acordo com os documentos que regem o ensino para a disciplina. Assim, é exposto como ocorreu a estrutura do Ensino de Ciências no Brasil até chegar à estruturação das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná. Em seguida, são apresentadas metodologias de ensino humanistas, baseadas na Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, na busca de uma abordagem que permitisse desenvolver um processo horizontalizado a partir de um currículo vertical, incluindo a formação integral do indivíduo. Com base em uma Espiral Construtivista, os alunos foram inseridos na decisão de quais temas trabalhar durante o ano letivo e, de posse deles, tendo como base a metodologia da Espiral Construtivista de Lima (2017), a possibilidade de horizontalização do currículo. Ao todo, foram desenvolvidas seis atividades com os alunos no decorrer de 2018. Parte das atividades acabou por envolver toda a comunidade escolar. Para a obtenção dos dados para a análise, a professora-pesquisadora aplicou um questionário socioeconômico semiestruturado, gravou áudios durante as aulas, realizou anotações em diários e registros fotográficos. Cada uma das seis atividades desenvolvidas envolveu várias etapas para sua execução: descrição, problematização, reflexão, intervenção. Os resultados mostram que o processo pedagógico promoveu a participação ativa dos alunos, que se empenharam, que se envolveram no que foi proposto. Este estudo permite constatar que as inclusões dos alunos no direcionamento das atividades desenvolvidas ajudaram a torná-los criativos, autônomos, empáticos, críticos, o que é almejado em uma educação humanitária, que pode colocar os alunos em atividades cognitivas e em movimento de aprendizagem, na espera de que eles assumam um papel ativo no seu processo de aprender e desenvolvam cidadania.
O Desenvolvimento De Um Framework De Trajetórias De Ensino E Aprendizagem De Matemática.
Hallynnee Héllenn Pires Rossetto, Profª. Drª. Regina Luzia Corio de Buriasco
Data da defesa: 04/03/2021
Esta tese de doutorado teve como objetivo desenvolver um framework com base na abordagem ao ensino de matemática denominada Educação Matemática Realística. Nessa abordagem, o professor é um guia dos processos de ensino e de aprendizagem, e esse guiar pode ser planejado por meio da elaboração de Trajetórias de Ensino e de Aprendizagem – TEA. O trabalho foi desenvolvido em uma perspectiva de pesquisa de natureza teórica do tipo especulativa. De maneira geral, as análises mostraram que os elementos presentes no FrameTEA vão além dos elementos da própria TEA, quais sejam, uma trajetória de ensino, trajetória de aprendizagem, o esboço dos conteúdos. O professor, ao utilizar o FrameTEA para elaborar sua trajetória, pode iniciar por qualquer uma das suas fases, o que lhe cabe é ter bem definidos quais são seus objetivos, intenções. O FrameTEA não é uma estrutura que precisa ser seguida, mas, sim, como uma estrutura que pode auxiliá-lo no seu planejamento, nas suas tomadas de decisões no seu trabalho em sala de aula.
O conhecimento pedagógico do conteúdo de uma licencianda em química: implicações para o desenvolvimento profissional docente
Viviane Arrigo, Prof. Dr. Álvaro Lorencini Júnior
Data da defesa: 05/03/2021
Esta investigação teve como foco principal o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) de uma licencianda em Química, apresentando como cenário investigativo a formação inicial de professores no contexto do Estágio Supervisionado. Os objetivos desta pesquisa foram: identificar e caracterizar os conhecimentos desenvolvidos da licencianda sob a perspectiva do conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) ao planejar e implementar atividades de ensino no estágio de regência e compreender as implicações desses conhecimentos para a sua profissionalização docente. As discussões realizadas com a licencianda foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas com base na análise textual discursiva. Em seguida, interpretamos as categorias emergentes com base no modelo de Shulman sobre o PCK, recorrendo também a outros que dele se desdobraram. Os resultados encontrados nos revelaram que durante o planejamento, o PCK foi mobilizado tendo como ponto de partida o conhecimento do conteúdo, que sustentou a mobilização de outros conhecimentos da base, como o pedagógico geral e o de contexto, de acordo com os seus objetivos de ensino, as características das estratégias adotadas e a influência das discussões com a pesquisadora. Após as aulas serem ministradas, percebemos que ocorreram o desenvolvimento e a ampliação do PCK da licencianda por meio de um processo reflexivo que deu origem a cinco categorias: Aprendizagem, Participação, Planejamento, Interação professor-aluno e Mediação Pedagógica do Conteúdo, que entendemos representar elementos que já faziam parte do seu PCK, mas que se desdobraram, se desenvolveram e se ampliaram por meio da validação dos resultados da sua prática. Compreendemos que essa validação é uma legitimação da prática, possibilitando a construção de novos conhecimentos acerca do ensino e aprendizagem, dos alunos, do conteúdo, das estratégias de ensino, do contexto, da gestão do conteúdo e das atividades, desembocando na transformação do seu PCK e, consequentemente, dos seus conhecimentos de base.
Mapeamento da percepção do sistema metacognitivo na aprendizagem em Física: um estudo dos relatos de estudantes do Ensino Médio
Nancy Nazareth Gatzke Corrêa, Profª. Drª. Marinez Meneghello Passos
Data da defesa: 22/02/2021
Entendendo a metacognição como construto multifacetado e sistêmico que se conecta à compreensão do conhecimento dos processos internos e externos no que tange ao envolvimento da cognição e dos sentimentos, por meio do domínio dos processos de autoconhecimento e da autorregulação abordado no processo de aprendizagem do sujeito a partir do seu contato experiencial com o mundo, com os outros e consigo mesmo, esta tese busca elucidar os componentes da relação cognição/metacognição presentes num processo de aprendizagem metacognitiva; assim como identificar as conexões entre as percepções do processo de aprendizagem em Física de estudantes do Ensino Médio e os elementos teóricos da experiência metacognitiva; busca também entender como os questionários aplicados na coleta de dados podem configurar-se como incentivo de entrada ao sistema metacognitivo. Para isso, foi necessário um longo caminho investigativo iniciado com a imersão nas pesquisas já realizadas, nacional e internacionalmente, na área de metacognição, as quais inspiraram a criação de um roteiro de questionários que foram utilizados como instrumento de coleta de dados para captar indícios da presença do sistema metacognitivo no processo de aprendizagem em Física. Estes foram aplicados ao longo de três anos em turmas de Ensino Médio de duas escolas privadas; porém optou-se por apresentar nesta investigação de cunho qualitativo a análise de alguns questionários de uma das escolas em um dos anos. Para analisar as justificativas apresentadas às respostas dadas a essas questões, foi empregada a Análise Textual Discursiva que amplia as possibilidades de produção de novas compreensões das descrições investigadas. Considerando o entendimento da natureza do aprender como o âmago da metacognição, primeiramente, foi proposto um modelo representacional de aprendizagem metacognitiva, seguido pela representação do sistema metacognitivo (conhecimento metacognitivo, experiências metacognitivas e habilidades metacognitivas), detalhada no mapa utilizado, posteriormente, como instrumento de análise de dados aplicado nesta pesquisa. Por meio das categorias emergentes da análise textual discursiva dos argumentos apresentados pelos estudantes ao responderem aos questionários, foi possível validar o instrumento de coleta das percepções do sistema metacognitivo presente no processo de aprendizagem em Física, pois foram encontrados indícios de que os questionários promoveram a entrada e a mobilização do sistema metacognitivo, funcionando como um incentivo metacognitivo. O modelo representacional da aprendizagem metacognitiva pode ser evidenciado por meio da percepção dos domínios referentes à reflexão metacognitiva; ao conhecimento metacognitivo (declarativo, processual e condicional); às manifestações das experiências metacognitivas e às habilidades metacognitivas, porém o reconhecimento do funcionamento executivo foi influenciado por sentimentos de valência negativa que provocaram apenas a autorregulação das tarefas e não da aprendizagem em Física. Os resultados promovem reflexões sobre as possibilidades de intervenções metacognitivas como forma de instituir um modo de pensar que auxilie na tomada de decisões no processo de aprendizagem.
Controvérsias, actantes e atuações: um estudo do processo de transição para um currículo flexível
Hugo Emmanuel da Rosa Corrêa, Prof. Dr. Sergio de Mello Arruda
Data da defesa: 08/02/2021
O ambiente educacional tem se apresentado como um desafio para pesquisadores devido à sua característica multifacetada e complexa, no qual fazem parte múltiplos atores, nos mais diversos momentos, seja em sala de aula ou nos processos de criação dos novos currículos, como se observa no Brasil contemporâneo. Com isso em vista, a presente investigação analisou o processo de transição curricular realizado por uma instituição de ensino pública federal, nos cursos técnicos integrados. Inspirado na Teoria Ator-rede de Bruno Latour, buscou-se compreender de que forma agiram os atores no processo de criação e manutenção do currículo implantado na instituição. Para isso, parte-se de um objetivo geral de compreender o processo de criação e manutenção do modelo curricular do IFPR – campus Jacarezinho, alinhado aos objetivos específicos de analisar: i) as características das conexões estabelecidas pelos atores para a criação de outro não humano; ii) as atuações desempenhadas por atores específicos na rede envolvida no processo; e iii) as performances realizadas pelos atores específicos nas diversas controvérsias mapeadas. Com viés metodológico norteado pela cartografia das controvérsias, mas embasado por múltiplas bases metodológicas, conseguiu-se como resultados descrever e analisar o conjunto de controvérsias envolvidas no processo, percebendo e descrevendo os atributos de tais controvérsias, bem como identificar e diagramar as redes com os atores envolvidos, analisar as atuações de três atores mais representativos e, a partir delas, identificar as variáveis que influenciaram nas atuações dos atores escolhidos, tais quais: atributos da controvérsia, atributos do ator, atributos da rede, cronologia do processo e a ação de outros atores. Desta forma, julga-se ser possível compreender como e em que circunstâncias ocorrem as atuações, em um ambiente de criação e transição curricular.
Jornadas Pelos Três Mundos da Matemática Sob Perspectiva da Etnomatemática na Licenciatura Intercultural Indígena
Geraldo Aparecido Polegatti, Profª Drª. Angela Marta Pereira das Dores Savioli
Data da defesa: 17/12/2020
Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Seu público alvo são acadêmicos indígenas da Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER) do Instituto Federal da Bahia (IFBA) – campus de Porto Seguro, que optam pela área de Ciências da Natureza e Matemática para sua atuação profissional. Os objetos matemáticos em estudo são as definições de limite, soma de Riemann, integral definida e função área. Eles estão presentes no currículo de Matemática da LINTER. Os aportes teóricos são o Programa Etnomatemática, fatos e personagens da História da Matemática e os Três Mundos da Matemática de David Tall. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Licenciatura Intercultural Indígena no Brasil informam que o cenário da Educação Indígena divide-se em dois âmbitos: a Educação Escolar Indígena que corresponde a Educação Básica e; a Educação Superior Indígena que comporta os cursos de Licenciatura e Pedagogia Interculturais. A Etnomatemática e a História da Matemática despontam com seus estudos presentes em todos os currículos de Matemática, assim como em teses e dissertações brasileiras envolvendo a formação de professores indígenas da área de Ciências da Natureza e Matemática. Nesse sentido, buscou-se pelos personagens Eudoxo, Euclides, Arquimedes e Riemann e, os contextos históricos envolvendo o método da Exaustão para a quadratura do círculo e da parábola, a balança abstrata de Arquimedes, os infinitesimais e a ideia de infinito, somas de Riemann, definição de limite, integral definida e função área. Do contexto cultural dos participantes da pesquisa apresentam-se os artefatos Filtro dos Sonhos, Pente Indígena, Cocar Indígena, Pau-de-chuva e Luminária Indígena. Promove-se a imersão do quadro teórico dos Três Mundos da Matemática no Programa Etnomatemática com aproximações entre as dimensões cognitiva e afetiva do segundo e, as interações entre elementos cognitivos e afetivos em processos de aprendizagem da Matemática estudado no primeiro. Por intermédio dessa imersão, caracteriza-se a dinâmica de movimento do pensamento matemático entrelaçado ao pensamento etnomatemático nas atividades propostas para cada processo de ensino e aprendizagem. Nessas atividades destacam-se o cálculo do comprimento da circunferência, das áreas de regiões retangulares, triangulares e circulares que são essenciais nos cálculos das superfícies cilíndrica e esférica, assim como dos volumes de cilindros, cones e esferas. A balança de Arquimedes emerge como um excelente material didático para o processo educacional dos objetos matemáticos abordados. Apresenta-se uma proposta de ensino e aprendizagem com os conteúdos relacionadosem distribuida em cinco momentos presenciais, pautada na imersão do quadro teórico dos Três Mundos da Matemática no Programa Etnomatemática, bem como uma de suas possíveis interpretações para cada encontro planejado.